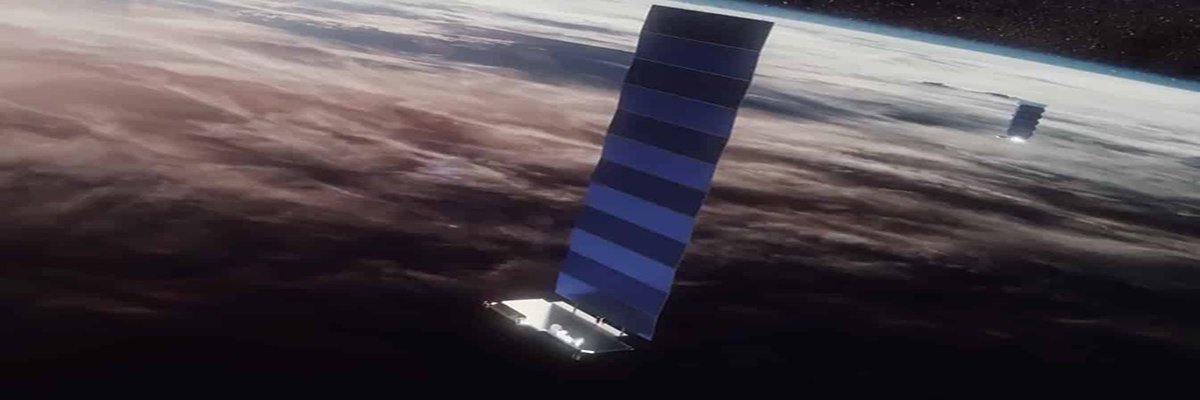Esse tipo de episódio em que um líder envia apoiadores armados para intimidar instituições democráticas não é tão raro quanto se pensa. No julho de 2017, bandidos carregando pedras e porretes invadiram a Assembleia Nacional venezuelana controlada pela oposição, enquanto a polícia não fez nada. Eles maltrataram sete legisladores, mandando dois para o hospital enquanto tentavam intimidar a maioria da Assembleia à submissão. (Funcionou.) E em fevereiro de 2021, O novo presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele, enviou policiais armados para ficar ameaçadoramente dentro das câmaras do Congresso, ameaçando expulsar à força qualquer legislador da oposição que não votasse em suas propostas legislativas. (Isso também funcionou.)
Em todo o mundo, o prestígio das instituições democráticas está diminuindo e a aura de intocabilidade que cercava os órgãos legislativos está se desgastando. Como os líderes acham mais difícil entregar resultados tangíveis aos seguidores, cresce a tentação de dar a eles uma dose rápida de dopamina. O truque barato, mas muitas vezes eficaz, é transformar a intimidação de seus inimigos políticos em entretenimento feito para a televisão. Embora essa abordagem não tenha começado nos EUA, sua crescente aparição em Washington e outras cidades é um fator que alimenta a tendência global.
Porque? Porque o soft power americano não é o que costumava ser. Durante grande parte do século 20, o domínio cultural da América fez com que as crianças de todo o mundo aspirassem a ser estrelas do basquete, virtuoses do jazz ou ídolos do rock and roll. As estrelas pop que os jovens imitam hoje em dia são tão provavelmente sul-coreanas quanto americanas, estrelas do esporte podem vir de qualquer lugar.
Mas em uma área, os Estados Unidos mantiveram a liderança: como exportador de preocupações culturais e políticas. O mundo parece ansioso para participar do tipo de conflito social que divide os Estados Unidos hoje. Desde o movimento #MeToo e maior sensibilidade sobre os direitos LGBTQ, até as teorias da conspiração de extrema-direita e os partidos políticos que lhes dão um lar, vimos repetidamente as divisões nascidas nos EUA logo ultrapassarem suas fronteiras e se tornarem parte de debates políticos em outras sociedades.
Quando a desigualdade econômica, uma realidade antiga e obstinada em muitos países, tornou-se um tema de crescente atenção política nos Estados Unidos após a crise financeira de 2008, políticos e formadores de opinião de outros países rapidamente a adotaram como leitmotiv. Mesmo em países como o Brasil, por muito tempo um dos economicamente mais desiguais do mundo, lidar com a desigualdade assumiu uma nova urgência quando entrou no discurso político dos Estados Unidos.
E não são apenas tendências progressistas que os Estados Unidos exportam, mas também a furiosa reação da direita contra essas tendências. O movimento Bolsonaro que esmagou os assentos do poder nacional do Brasil foi alimentado por toda uma série de pesadelos conservadores de fabricação americana, desde o negacionismo eleitoral e uma rejeição orgulhosamente retrógrada do politicamente correto a crenças abatidas dos pântanos febris de QAnon. . O movimento brasileiro compartilha, inclusive, em Steve Bannon, um dos principais protagonistas da virada dos Estados Unidos para a extrema direita.
É por isso que as cenas constrangedoras que acabamos de ver em Brasília podem se tornar o tipo de história que continua se repetindo pelo mundo. Muitos governos lutam para entregar para seu povo. Mas nos EUA, as guerras culturais fornecem um modelo pronto para o que pode acontecer em seu lugar: a adrenalina da luta, os efeitos inebriantes de possuir as liberdades, levando a uma tentativa violenta de derrubar uma eleição. Se aqueles de nós que valorizam a democracia não acabarem com esse tipo de explosão com punições severas, isso pode muito bem se tornar um lugar-comum, um tema recorrente na política de um século quebrado.