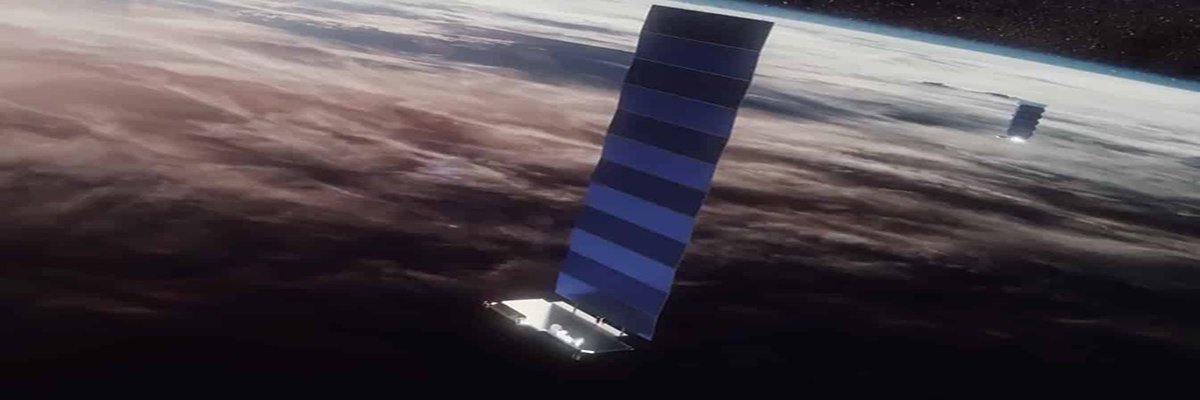Ao longo da história, até 63 raças humanas foram classificadas, mas em 1994 a Associação Antropológica dos Estados Unidos se distanciou do conceito e demonstrou sua falta de base científica.
Desde seu surgimento no século XVIII, a antropologia física se concentrou no estudo dos restos mortais de esqueletos humanos. Seu objetivo era observar fenômenos evolutivos e variabilidade humana.
À medida que novos territórios e populações foram descobertos, era necessário, de acordo com os naturalistas europeus, classificar os seres humanos de acordo com suas características.
No reino animal, falar sobre raças geográficas consiste em definir grupos de indivíduos que diferem de acordo com características adaptadas ao tipo de ambiente. No caso dos seres humanos, o conceito tinha uma conotação muito diferente.
De fato, a diversidade humana não era percebida como uma seleção do ambiente (como na cor da pele e na forma dos olhos).
Em vez disso, foi interpretado como um reflexo das características culturais das muitas populações do planeta.
Por exemplo, os traços europeus eram considerados “superiores, equilibrados, bonitos” e eram um reflexo externo da “inteligência e educação” que caracterizavam todos os europeus.
Eles se consideravam a raça “suprema”.
Os traços africanos, por outro lado, eram considerados “primitivos e pouco atraentes”, símbolo de uma população “ignorante e incivilizada”, segundo naturalistas e antropólogos do século XVIII.
A criação de uma hierarquia.
O contexto histórico favoreceu uma investigação dedicada à classificação dos tipos humanos.
O colonialismo e a escravidão foram os motores que levaram os europeus a buscar apoio científico para justificar suas ações contra os povos indígenas.
Uma das primeiras ferramentas usadas para discriminar entre diferentes “raças humanas” foi a craniologia, o estudo das características métricas e morfológicas do crânio humano.
Para isso, foram medidos os crânios dos principais grupos populacionais conhecidos.
A cada um foi atribuído um padrão preciso de características (globular, crânio alongado etc.) que correspondiam a qualidades intelectuais mais ou menos desenvolvidas.
Assim, uma hierarquia social e cultural foi estabelecida entre os grupos humanos.
Foi devido a Blumenbach (1752-1840) que a morfologia do crânio começou a ser usada sistematicamente como parâmetro para determinar a raça de origem de um indivíduo.
Sua metodologia foi estendida a todas as coleções osteológicas europeias no século XVIII.
Esse interesse pelas características cranianas foi cultivado principalmente por Franz Joseph Gall (1758-1828), que defendia a hipótese de que a morfologia craniana específica correspondia a certas características intelectuais.
Assim nasceu a frenologia, hoje considerada uma pseudociência.
Os últimos defensores das raças humanas.
Muitos antropólogos e geneticistas físicos se dissociaram da imagem que o totalitarismo e o colonialismo queriam dar sobre a variabilidade humana. Para esse fim, eles forneceram evidências e estudos científicos.
A inconsistência do conceito de raça é notável, principalmente porque nunca houve uma classificação unívoca dos parâmetros utilizados.
Ao longo da história, duas a 63 raças humanas foram classificadas, um pesadelo para estudantes de antropologia.
Também é importante notar que os primeiros naturalistas e antropólogos que tentaram dividir a humanidade em raças usavam parâmetros sujeitos ao meio ambiente, ao resultado da evolução e à seleção ambiental de características fisionômicas. Por exemplo, cor da pele, tamanho e morfologia do crânio.
Em 1994, a Associação Antropológica Americana se distanciou desse conceito ultrapassado e demonstrou sua falta de base científica.
É incorreto definir fenômenos tão dinâmicos quanto a imensa variabilidade humana e a história da evolução do homem com um conceito estático e estéril como “raça”.
No campo da antropologia forense, um ramo da antropologia física, onde restos são encontrados, é essencial estabelecer sexo, idade, altura e origem geográfica.
Para se afastar da conotação social da palavra “raça”, a ciência precisou mudar sua maneira de se referir às populações humanas e aceitar a existência de uma única espécie: Homo sapiens.
A terminologia mudou de raça para descida. Isso se refere às características herdadas dos pais e ancestrais de uma pessoa.
Essa mudança também foi necessária porque não é verdade que um indivíduo pertença a uma área específica. A globalização mudou a distribuição das características fenotípicas (aquelas que vemos representadas em uma pessoa).
A pesquisa não foi realizada apenas na parte morfológica do esqueleto humano. Testes genéticos e moleculares no campo da antropologia molecular também foram avaliados.
Em um estudo de 1972 do professor Richard Lewontin, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, as proteínas foram analisadas no sangue de diferentes populações.
Os resultados não mostraram diferenças significativas do ponto de vista molecular para separar as raças humanas.
Estudos subsequentes ajudaram a verificar se a sequência base (as unidades que compõem a informação genética) no DNA humano é 99,9% idêntica, deflacionando completamente o argumento para encontrar um parâmetro confiável para definir raças.
Esses dados foram importantes para apoiar a igualdade dos seres humanos do ponto de vista científico, imparcial e rigoroso.
A ideia de raça nos nossos tempos.
Nos tempos modernos, ainda existe uma derivada direta do conceito de raça: racismo.
Sabemos as terríveis conseqüências que isso teve para os genocídios ferozes cometidos no século XX.
Como disse o físico Albert Einstein, “é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito”, uma afirmação que ainda está em vigor.
Infelizmente, temos que admitir que ainda existem aqueles que pensam que existem “raças” humanas.
Isso, apesar do fato de a ciência mostrar que não há testes ou bases rigorosos suficientes para defini-los em humanos.
Além disso, o mundo científico trabalha por unanimidade para defender a igualdade entre diferentes grupos humanos e eliminar as construções pseudocientíficas de uma realidade que é aceita tanto biológica quanto legalmente.
Sejam os restos mortais de um rei poderoso dos tempos medievais, um escravo egípcio, um migrante que morreu às nossas costas ou uma figura importante no mundo do entretenimento, a verdade universal que os ossos afirmam é que somos humanos.
Sob nossa pele, somos todos iguais.
* Lorenza Coppola Bove é professora de Antropologia Física na Universidade Pontificia Comillas, na Espanha.
Este artigo foi publicado originalmente na revista digital The Conversation e é reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Dar um click aqui para ler o artigo em sua versão original.